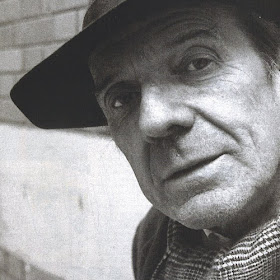Por Raony Francisco Moraes
Um livro. Ocorre às vezes que um livro
permite que nele se adentre por pórticos secretos, insuspeitos, originais, de
acordo com um certo rizoma que permite ao livro estabelecer uma relação com o
Fora que o circunda; daí que uma máquina[1]
literária pode então agenciar com outra máquina, filosófica ou científica[2].
Em Fahrenheit 451 (1953), Bradbury propicia
um tal agenciamento maquínico, e em razão das ressonâncias que podem ser
percebidas em sua obra, faz delinear-se uma nova imagem do pensamento (ou pensamento sem imagem). Segundo Deleuze, a
filosofia “deve criar os modos de pensar, toda uma nova concepção do pensar”
(DELEUZE, 2006, p. 178), e desta constatação retira-se a necessidade de uma
crítica à representação, isto é, à “imagem moral e dogmática do pensamento”. Crítica
que se verá no terceiro capítulo (intitulado, justamente, A imagem do pensamento) de Diferença
e repetição (1968).
Perguntar-se-á de que modo um livro como
esse contribuiria a uma crítica à representação; afinal, trata-se aqui de uma
exposição pautada na experiência de leitura de uma obra ficcional: uma distopia. Ora, sabe-se muito bem que Deleuze jamais negou
a participação – não meramente ilustrativa - da não-filosofia no pensamento
filosófico (não é por acaso que encontraremos, na leitura dos livros de
Deleuze, um sem número de referências, explícitas ou implícitas, a artistas de
todo os gêneros). Para o filósofo é imprescindível que a filosofia e a
não-filosofia conversem. Aqui, trata-se justamente de fazer falar, no seio da
filosofia, a não-filosofia sem a qual a filosofia não poderia pensar suas
questões, propor seus problemas (o percepto e o afeto do conceito). O que
implica, também, que a própria filosofia fale (por sua própria conta). Trata-se,
afinal, de falar de literatura, mas de falar de literatura filosoficamente, isto é, do ponto de vista da filosofia.
Clarisse McClellan desempenha o papel daquela
entidade diabólica sem a qual o pensamento não seria possível, como a serpente
o fora para Eva no Éden. Ela afirma o para-além dos limites do macro e
microcosmo harmonioso, perfeito e feliz em que Montag, o nosso protagonista,
está inserido: a pura exterioridade onde o pensamento encontra sua
possibilidade. Portanto, quando ela apresenta-se como “doida” (BRADBURY, 2009,
p. 20), não é de loucura que ela está a falar, ou pelo menos não é só de
loucura. Aí, então, lançamos a pergunta: diabólica em que sentido? Não basta
apenas dizer que ela seria aquilo que nos força a pensar, como se disso
pudéssemos extrair, intuitivamente, todas as consequências. Clarisse é
diabólica no sentido de quando dizemos “isto perturba a tranqüilidade de minha
alma”. Quem, senão o Diabo e seus demônios lançar-nos-ia à dura e exasperante
experiência da desreferencialização? Pois, sem dúvida, é exasperador quando
nossas verdades, aquelas verdades essenciais que alicerçam nossa existência, desmoronam.
Quando Clarisse pergunta a Montag se ele é feliz, responde ele, tão rapidamente
quanto possível, que sim: “claro que sou feliz. O que ela pensa? Que não sou?”
(BRADBURY, 2009, p. 24). Mas depois, ao chegar a sua casa, se dá conta de que,
de fato, não era feliz e que sua felicidade era uma aparência, um verniz, uma
frágil máscara que fora-lhe arrancada:
“Não estava feliz. Não estava feliz. Disse as palavras a si mesmo. Admitiu que este era o verdadeiro estado de coisas. Usava sua felicidade como uma máscara e a garota fugira com ela pelo gramado e não havia como ir bater à sua porta para pedi-la de volta.” (BRADBURY, 2009, p. 26)
Diz-se frequentemente que o Diabo vê para
além das aparências, chegando à mentira que se encontra - como é de se esperar
- no centro das verdades mais fundamentais do homem. Não se pode enganar o
Diabo! O caso de Montag teria sido o de um homem que ao Diabo tentou ludibriar?
Certamente. Acontece de o homem achar-se constantemente cheio de verdades –
“claro que sou feliz” é uma delas - que por um golpe diabólico dissipam-se e precipitam
o homem num mundo, agora, desestruturado, hostil e perigoso (a constatação de
que tudo não tem sentido, importância, valor). Montag fala com demasiada
confiança em sua felicidade. Acredita realmente na verdade dessa felicidade,
que ela não é mera aparência. Cheio de respostas, cheio de verdades que o
tranqüilizam, o acalmam, o domesticam: é tarefa do Diabo e de seus servos
introduzir no homem a dúvida e a hesitação diante das verdades outrora
evidentes e indubitáveis (eis o motivo pelo qual a filosofia só pode se
apresentar como uma forma, talvez a mais radical, de heresia). Clarisse, portanto, desafia as verdades que sustentam o
mundo de Montag; ela cumpre a tarefa diabólica, substitui o princípio de
certeza pelo princípio de incerteza e introduz a dúvida no âmago do ser, a
ponto mesmo de dilacerá-lo - Montag não se vê mais como bombeiro, como membro
daquela comunidade; ele não suporta mais as pessoas e tortura-as (BRADBURY, 2009,
pp. 144-7). Com mestria, Clarisse desestrutura seu mundo, embaralha os códigos
e com isso suscita o pensamento.
Segundo Deleuze “o erro da filosofia é
pressupor em nós uma boa vontade de pensar, um desejo, um amor natural pela
verdade” (DELEUZE, 2003, p. 14). Não é por amor pela verdade que Montag enfim
decide ver o que há nos livros, como se bastasse uma “disposição natural” para
que nele o desejo pela verdade dos livros fosse despertado. Montag só vai
buscar a verdade dos livros após ter sofrido uma violência, a de Clarisse, a
garota esquisita com a qual ele se
encontra ao voltar para casa após o trabalho. São signos que o violentam e que o
forçam a pensar, a buscar pelo verdadeiro, a aventurar-se no reino da verdade e
do pensamento; são, finalmente, signos que o desassossegam e arrancam o
pensamento do seu natural estupor. Só há, portanto, pensamento de um
involuntário, isto é, só se pensa coagido, forçado. Sobre isso, diz Deleuze: “Nós
só procuramos a verdade quando estamos determinados a fazê-lo em função de uma situação
concreta, quando sofremos uma espécie de violência que nos leva a essa busca”
(DELEUZE, 2003, p. 14). Quem procura a verdade? O homem que não mais se
reconhece nas verdades que aviam-lhe sido impostas. Não é à toa que o encontro
de Montag com Clarisse o perturba tanto, fazendo-o voltar para ela, pela
lembrança, em momentos decisivos da história. Clarisse fora, para Montag, o
estopim para uma revolução no pensamento, no modo de vida de Montag. A
propósito disso, Bradbury declarará, no Posfácio
do livro: “(...) foi ela, beirando a conversa boba de tietagem, a responsável
por Montag começar a se perguntar sobre os livros e o que havia neles”
(BRADBURY, 2009, p. 240).
Amiúde, se as verdades de Montag não mais o satisfazem, dada a violência
que o pusera a pensar nessas verdades, a pensar, finalmente, em si, naquilo que
o cerca, então, faz-se necessário empreender uma busca da verité vraie, busca essa que levará Montag à ruptura radical com
tudo aquilo de que ele fazia parte e o constituía essencialmente: emprego,
esposa, sociedade, seu orgulho de ser bombeiro, seu prazer em queimar livros, amizades,
pensamentos, aprovações e repugnâncias etc. Foi preciso que os signos, com sua
crueldade, engendrassem pensar no pensamento e, assim, fizessem com que Montag
abandonasse seu lugar de mero reprodutor de ideias prontas para tornar-se,
efetivamente, um pensador, um crítico de si e de seu tempo. Todo aquele
discurso sobre como os livros são perniciosos, falsos, irrisórios, já não faz
para ele sentido. O sentido está na busca pela verdade dos livros. Busca não
das verdades que supostamente estariam no conteúdo dos livros, mas das verdades
acerca dos livros mesmos. Montag é arrastado para eles, por forças que o
coagem, isto é, o impelem à leitura, à descoberta, ao desvendamento da verdade
do livro. O que diz um livro? O que ele significa? Todo aquele discurso de
Beatty (o capitão), sobre como os livros perturbam a tranquilidade das pessoas
e que era função dos bombeiros manterem essa tranquilidade – “Eles receberam
uma nova missão, a guarda de nossa paz de espírito” (BRADBURY, 2009, p. 89) -,
provocava ainda mais o desejo de Montag de lê-los, de experimentá-los, uma vez
que essa tranquilidade nunca lhe bastou de todo; daí, por exemplo, a sua
enfermidade: a enfermidade dos sem-verdade, dos sem-comunidade, dos
sem-identidade. É preciso insistir nesse ponto: tudo para ele não tem mais
sentido, o sentido está só, e somente só, nos livros, na cultura dos livros, na
vida outra dos livros.
Compreende-se agora o porquê de afirmarmos que o singelo livro de
Bradbury contribui para uma filosofia da Diferença. Montag experimenta, na dor
do desprendimento, na morte que é, afinal, consequência de toda individuação (vemos
isso no caso de Dionísio), e na alegria da descoberta dos livros, o pensamento
sem imagem do qual falava Deleuze. As angustias, os medos e os pavores de
Montag são as angustias, os medos e os pavores de um tal pensamento sem imagem,
de um tal mergulho num mundo onde a representação não opera mais. Se Deleuze,
em tom claramente provocador, dizia que a literatura compreendia a realidade do
delírio melhor do que a psicanálise, então, dizemos nós que a literatura
compreende melhor a Diferença. A Diferença ocupou, na filosofia, tão-somente um
lugar negativo, de subjugação (caso do platonismo) ou de impossibilidade (caso
do infinito cartesiano).
Signos
e sensibilidade
Do mesmo modo que Fahrenheit 451 contribui para uma crítica da representação, ele
contribui, igualmente, para uma teoria do signo, que Deleuze buscará fundar a
partir da leitura da volumosa obra La recherche du temps perdu, do escritor francês Marcel Proust.
Veremos, por exemplo, como Montag é, tal como os personagens de Proust, um
“egiptólogo”, isto é, um intérprete de signos; veremos também como Montag
participa de um sistema de signos específicos e como ele é deslocado em relação
a esse sistema. Tanto em Bradbury quanto em Deleuze o que está em jogo é uma
teoria dos signos. Cabe agora compreendermos o sentido do signo, a função que
ele ocupa no aprendizado e na evolução da personagem. Clarisse só faz com que
Montag pense sobre os livros à medida que ela emite signos que o violentam e o constrangem.
Montag é sensível – ou torna-se sensível - aos signos de Clarisse, abrindo-se,
a partir desse encontro que o obriga a pensar, a outros signos que não mais
pertencem ao sistema de signos que lhe corresponde.
Falamos de sensibilidade, de signos, e da
relação entre essas duas coisas. Não se trata, é certo, de mero jogo vazio de
palavras, nem de licença poética, o que inevitavelmente nos lançaria ao jogo
sujo da metáfora (coisa que Deleuze repudiaria). O signo exige, de fato, uma
sensibilidade capaz de aprendê-lo (eis o verdadeiro significado da vocação, que
nada mais é do que uma predestinação em relação aos signos), isto é, que o
interprete. Diz Deleuze: “todo ato de aprender é uma interpretação de signos ou
hieróglifos” (DELEUZE, 2003, p. 4). A princípio, a sensibilidade de Montag está
voltada para o mundo dos bombeiros que queimam livros e das pessoas que odeiam
livros. Falar-se-á numa “sensibilidade conservadora”, no sentido de que ela
admite apenas aquilo que está nesse mundo, recusando, a priori, todo o
resto. Isso significa que a sensibilidade aprende certos signos e não aprende
outros. Quais são os signos aos quais Montag é sensível? São os seguintes: os
signos da Lei (“é proibido ler livros”, “ler livros é um crime” etc.), os
signos dos bombeiros (a Salamandra, o Sabujo, Beatty, encarnando todos os
signos perversos da autoridade), os signos do fogo devorando os livros e as
casas e/ou bibliotecas que eles queimavam (BRADBURY, 2009, p. 15), o querosene
que impregnava seu corpo – “- Querosene – disse ele, porque o silêncio se
prolongava – não passa de perfume para mim” (BRADBURY, 2009, p. 19). O mundo de
Montag é o mundo da ordem estabelecida, dos clichês, das palavras de ordem, da
interdição, da severidade, do esvaziamento de si etc.
Diz Blanchot sobre a experiência
artística: “Ouvir música faz daquele que só sente prazer em ouvi-la um músico,
e o mesmo se pode dizer de quem gosta de ver um quadro. A música, a pintura,
são mundos em que se penetra aquele que possui a chave para eles. Essa chave
seria o “dom” (...). É preciso ser dotado para ver e para ouvir” (BLANCHOT,
1987, p. 191). Montag dispunha da “chave” para tornar-se sensível aos signos de
um mundo que não era o seu, mas o de um Outro que ele, em seu devir, teria que “tornar-se”?
Clarisse aparece como o Fora desse domínio comum onde os signos familiares a
Montag se organizam; ela – compreendida como objeto emissor de signos e não
como subjetividade identitária fechada sobre si mesma - é a “chave” de que fala
Blanchot – ou a linha de fuga, como falaria Deleuze -, isto é, ela
propicia a abertura para esse Fora ainda mais radical, que Montag experimentará
só no final de sua aventura, quando reunido como os Homens-livro que habitam a
velha ferrovia, dá-se conta de que não pertence mais àquele mundo que lhe era,
outrora, familiar e aprazível. Conclui-se, então, que no aprendizado dos
signos, é como na experiência artística: há sempre uma sensibilidade capaz ou
não de interpretar os signos de um certo mundo onde esses signos reúnem-se e
formam, justamente, a especificidade desse mundo.
“É preciso ser dotado para ver e ouvir”,
diz Blanchot, e não se poderá dizer que Montag não o era. Já há um ano ele
vinha acumulando livros em sua casa, embora ainda não tivesse adquirido a
coragem para lê-los. Montag possuía a vocação para os livros, isto é, ele era
sensível a eles, não conseguia ser indiferente, vê-los queimar, regozijar-se e
apenas seguir em frente (quando Montag encontra Clarisse pela primeira vez e se
gaba por queimar livros, isso não passa de exibicionismo, algo que não se deve
considerar, a não ser que seja para mostrar como Montag mentia a si mesmo). Montag
distinguia-se dos outros bombeiros, e Clarisse percebera isso muito bem:
“Você não é como os outros. Eu vi alguns; eu sei. Quando eu falo, você olha para mim. Ontem à noite, quando eu disse uma coisa sobre a Lua, você olhou para a Lua. Os outros nunca fariam isso. Os outros continuariam andando e me deixariam falando sozinha. Ou me ameaçariam.” (BRADBURY, 2009, p. 42).
Montag quis apreender os signos da Lua,
por isso a contemplou quando Clarisse referiu-se a ela na primeira conversa que
tiveram. Já os outros bombeiros, por serem destituídos dessa sensibilidade,
permaneceriam indiferentes à Lua. Deleuze ensina-nos que só se pode ser bom em
algo, ter domínio sobre algo, se se é sensível aos signos emitidos por esse
algo. Só se é marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira; e só se é
um leitor tornando-se sensível aos signos do livro. E é possível, ainda, que se
seja mestre na interpretação de certos signos, e absolutamente inepto na
decifração de outros: “pode-se ser muito hábil em decifrar signos de uma
especialidade, mas continuar idiota em tudo o mais, como o caso de Cottard, grande
clínico” (DELEUZE, 2003, pp. 4-5). É o caso dos bombeiros, num certo sentido, e
de Montag, noutro, uma vez que Montag, diferentemente de seus colegas, é dotado
de uma sensibilidade especial, aberta para os livros: os outros bombeiros não
compreenderiam Clarisse. Montag, ele mesmo, não a compreende. Acontece que ele
está ainda aprendendo. A aventura de Montag é a aventura de um aprendiz. Ele
está aprendendo os signos das coisas, e por isso Clarisse foi para ele tão
fundamental.
Dois momentos são cruciais nesse processo
de aprendizado[3]: os dois diálogos que o
protagonista trava com Clarisse. Guardemos o seguinte: Clarisse quer mostrar
para Montag o quanto as pessoas são insensíveis em relação aos signos do mundo.
Ela diz, numa fala ao mesmo tempo virulenta, bela e delicada:
“- Às vezes acho que os motoristas não sabem o que é grama, ou flores, porque nunca param para observá-las – disse ela. – Se a gente mostrar uma mancha verde a um motorista, ele dirá: “Ah, sim! Isso é grama!”. Uma mancha cor-de-rosa? É um roseiral! Manchas brancas são casas. Manchas marrons são vacas.” (BRADBURY, 2009, p. 22).
Montag, aí, não é diferente dos
motoristas aos quais Clarisse se refere. O início da fala de Clarisse é-nos
revelador: “(...) acho que os motoristas não sabem (...)”. Com efeito, eles não
sabem o que é uma flor ou uma grama, pois são indiferentes aos signos emitidos
pela flor e pela grama[4].
Ser sensível a algo é condição necessária para se aprender o que quer que seja
sobre esse algo. Quem nunca contemplou um quadro e nada dele reteve, como se
ele nada dissesse? Montag não sabia que a grama ficava coberta de orvalho
durante a manhã (BRADBURY, 2009, p. 23). Isso irritou-o. É certo que lemos que
Montag não sabia se sabia ou não, mas isso é só um modo de falar. Ele jamais
poderia sabê-lo, pois nunca foi tocado pelo orvalho. Foi preciso que Clarisse
lhe falasse sobre o orvalho da manhã para que ele então começasse a pensar
nele. Antes disso, sequer havia orvalho, ou seja, o orvalho não ocupava espaço
no pensamento, no mundo extremamente reduzido, de Montag (não se conhece o que
está fora do pensamento).
A cena mais bela do livro é aquela em que
Montag, após despedir-se de Clarisse – a jovem necessitava ir a uma consulta
com o seu psiquiatra - decide experimentar a chuva. Ora, aquilo que
supostamente seria tão só uma conversa piegas de um autor sentimental – uma
conversa sobre a chuva, afinal, quem liga para isso? Quem escreve sobre isso? –
revela-se extremamente significativo para a nossa exposição e para a estrutura
elementar do livro. Montag vê Clarisse com a cabeça para trás e com a boca
aberta, como uma louca, saboreando o gosto da chuva que os banhava naquele
momento (ela não receava molhar-se ou gripar-se). A partir daí, segue-se um
diálogo decisivo para a metamorfose de Montag. A flor dente-de-leão, por
exemplo, terá a função de revelar à Montag algo de fundamental. Dar-se-á ele
conta de mais uma das muitas fábulas que compunham a sua vida: a fábula que era
o seu casamento, o seu amor (BRADBURY, 2009, p. 69). Quando a menina parte -
após deixar o nosso herói ainda mais transtornado - e ele, por sua vez, segue o
seu caminho, vemos o gesto mais singelo, mas também o mais grave: ele inclina,
lentamente, a cabeça para trás, abre a boca e sente, pela primeira vez, a chuva
(BRADBURY, 2009, p. 42). Ao tornar-se sensível aos signos da chuva, pois antes
ele não via como poderia experimentá-la senão do modo habitual, isto é, como
mero fenômeno natural desprovido de um sentido diferenciado, Montag “aprende” a
chuva. Ele nunca a havia experimentado, e, impulsionado pelo semelhante gesto
de Clarisse, decide, enfim, experimentá-la. É um momento de grande liberdade e
de grande alegria. Parece pouco, mas não é: Montag pela primeira vez faz algo
de espontâneo, sem questionar-se sobre a validade, a relevância, o sentido de
sua ação, como se tratasse de algo inerente a ele, algo que lhe fosse comum:
sentir a chuva já não lhe é mais estranho ou até mesmo idiota. Outra vez Montag
é retirado da monotonia do mesmo, da sua profunda alienação.
O que dizer das outras personagens que
participam da história? Mildred, por exemplo? Poder-se-ia afirmar sobre Mildred
o mesmo que se afirmou até aqui sobre Montag? Essa personagem poderia ser ela
mesma pensada sob o prisma de uma teoria dos signos, de modo a contribuir para
a corroboração dela? Parece-nos que sim. Vejamos como. Dir-se-ia que Mildred,
ao contrário de Montag, exprime a inépcia na interpretação dos signos, daqueles
signos que não participam do mundo no qual Mildred está inserida. Mildred é
sensível, e isso o texto evidencia conforme avançamos nele, tão-somente aos
signos emitidos pelos três telões (as TV’s do futuro) e pelas conchas que não
saíam, sequer quando ela dormia, de seus ouvidos, uma “sensibilidade técnica”. Mildred
não ouve Montag quando ele tenta (exemplo disso é a cena do café da manhã, logo
após Mildred ter sofrido uma overdose de remédios) falar com ela; as conchas a
impedem de ouvi-lo senão por meio de leitura labial, meio que aparece apenas
como símbolo da impossibilidade de um diálogo entre os dois. Quando Montag,
outra vez, tenta falar com Mildred, agora para desabafar sobre sua experiência
traumática com a velha que havia preferido ser queimada com seus livros, e, por
último, quando ele, desesperado e esperando o apoio de Mildred, revela que
havia, durante um ano, guardado livros em sua casa e que gostaria de com ela
lê-los a fim de verificar se tudo aquilo que Beatty falava acerca dos livros
era verdade. Mildred não o vê, não o ouve, não o sente, e, inevitável conclusão,
não o ama. Mildred só dá ouvidos à “família”, isto é, àquelas pessoas
desconhecidas com as quais ela falava por intermédio dos telões e que Montag
passou a detestar, justamente pelo fato de se tratar de pessoas desconhecidas,
com as quais se travava diálogos enfadonhos e vazios - pura tagarelice sem
sentido. Montag dá-se conta de que vivera durante dez anos com uma estranha,
que seu casamento nada mais era do que uma farsa grotesca e que eles jamais
haviam construído algo juntos. O que Mildred passa a representar para Montag? Passa
a representar o vazio e a frieza desse vazio. Portanto, Mildred não escapa de
uma interpretação que privilegia uma teoria dos signos, pelo contrário, ela
aparece como mais um dos muitos elementos que corroboram tal tese.
Acreditamos ter fornecido elementos
suficientes para a fundamentação de uma leitura “à francesa” do livro de
Bradbury. É certo, porém, que tal leitura só fora possível à medida que
dispensamos uma certa ideia de livro, a saber, a ideia de que na leitura de um
livro, aquilo com o que nos deparamos, na superfície das linhas, no entremeio
delas e mesmo por detrás delas, é a verdade essencial do livro, verdade da qual
o livro retira o seu sentido, que é, sempre, um “sentido último”. Apostamos, ao
contrário, numa leitura que faz valer a dica deleuzeana: ler um livro pondo-o
em relação com sua exterioridade. Aí, a leitura adquire um novo sentido: operar
cortes/fluxos que não só atravessam o livro de lá para cá, em velocidades as
mais diversas e que lhe dão uma coloração nova, tons inimagináveis, como também
o conectam com séries maquínicas outras, que lhe fazem dizer, assim, algo de
novo. Eis a originalidade que só é possível quando a leitura se abre para o
Fora do livro. Esperamos, com isso, que nossa leitura tenha proporcionado ao
leitor uma nova visão, um novo jeito de pensar. Esse foi o nosso objetivo. Que
é o de toda literatura por vir: uma leitura que faz nascer o novo.
Referências
bibliográficas:
BLANCHOT,
M. O espaço literário. Rio de
Janeiro: Rocco, 1987.
BRADBURY,
R. Fahrenheit 451:a temperatura na qual o
papel do livro pega fogo e queima . São Paulo: Globo, 2009 (Coleção Globo
de Bolso).
DELEUZE,
G. Diferença e repetição. Rio de
Janeiro: Ed. Graal, 2ª edição, 2006.
____________.
Proust e os signos. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2ª edição, 2003.
[1] Não se entrará no mérito da
questão “Que quer dizer máquina?”. Muito embora a noção de máquina seja uma
noção cara à filosofia deleuzeana, tanto que encontrará desdobramentos
significativos (como, por exemplo, “maquínico”), acredito ser possível passar
sem uma exposição do seu significado, exercício que nos custaria tempo e ainda
nos desviaria do propósito do texto. Mas darei aqui uma dica para quem quiser,
por conta própria, buscar o seu significado. Em Kafka, por uma literatura menor, o termo máquina é recorrente.
Falar-se-á, por exemplo, na máquina burocrática que Kafka opera admiravelmente
em conjunto com uma máquina literária, sobretudo em O processo. O mesmo termo aparecerá quando Deleuze for explicar as
cartas de Kafka. Outro caso é o uso da palavra “máquina” no O anti-édipo, obra que se coloca como
uma crítica à psicanálise e como um programa para uma nova “disciplina” – a
esquizoanálise -, onde o termo “máquina” terá um papel fundamental no
desenvolvimento de uma nova teoria do inconsciente.
[2] Poder-se-á ainda falar, como se
pôde ver, noutras máquinas. Ouso dizer que Bradbury opera, ainda, uma máquina
de outro tipo, não apenas literária, uma máquina tecnológica sem a qual sua
literatura seria apenas um livro, como outro qualquer, de ficção e por isso não
seria possível utilizá-la como intercessor.
[3] É interessante notar como se dá
as conversas entre Clarisse e Montag. A menina tenta mostrar a Montag coisas
que ele não via e que, portanto, ele não conhecia. A Lua é um exemplo. No
decorrer da conversa, notaremos também que Clarisse chega a um ponto em que
revela saber mais do que Montag. Montag, ali, embora mais velho, é absurdamente
inferior à Clarisse em termos de decifração das coisas. Veremos isso a respeito
da flor que Clarisse mostrará ao herói, a respeito da chuva e do orvalho. Ela
fornece-nos elementos que sugerem que Montag,
aí, é um aprendiz; ele ocupa o lugar de alguém que efetivamente não sabe, isto
é, que não interpreta o mundo a sua volta.
[4]
Agora entramos num ponto
que aparecerá, aqui e ali, na vasta bibliografia de Deleuze e do qual não
podemos escapar: o conhecimento não é um reconhecimento. Não basta reconhecer
uma flor como flor para conhecê-la. Os motoristas certamente saberiam dizer
“isso é uma flor”, se uma flor lhes fosse apresentada, mas isso não basta. Até
aí, nenhum esforço no sentido de uma decifração dos signos foi feito, e,
portanto, a flor não fora efetivamente conhecida. Aplicar a representação da
flor ao seu respectivo conceito, por meio de uma atividade do entendimento, tal
como proporia Kant, não basta para falarmos de um conhecimento efetivo da
coisa; faz-se preciso ir além da simples síntese entre conceito e representação.
O que não significa, que fique claro, que tal operação não é necessária.
Fonte da imagem: palavroeiro.wordpress.com
Fonte da imagem: palavroeiro.wordpress.com